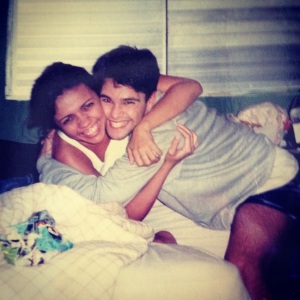Em Lima não chove: moro há dois anos aqui e, nesse período, só duas vezes vi garoar um pouco mais forte – chuvinha, chuvisco, daquelas que molham um pouquinho sem encharcar. Aguaceiro mesmo, tipo tempestade tropical, nunca. Trovão de meter medo, relâmpago cortando o céu, granizo como cai no Brasil, nem pensar.
Daí que, como São Pedro não chora por essas bandas, a cidade não toma banho. Se asseia, no máximo, com o incansável trabalho das equipes de limpeza urbana, mas não tem jeito – Lima está sempre encardida. A frota de veículos velhos emite gases e resíduos que, aliados às condições climáticas e de relevo locais, criam uma estufa de fuligem em suspensão, tanto que a capital peruana já foi considerada a mais poluída da América Latina. Some-se a isso a umidade absurda em Miraflores, que no inverno chega à incrível taxa de 99%, e temos “la mugre”, essa imundície preguenta que cobre tudo e todos o tempo inteiro. Um pesadelo para um virginiano com TOC.
Em casa temos uma abençoada e preciosa faxineira que diariamente varre, espana, aspira, lava, com razoável capricho, e ainda assim, se ao fim da tarde passo o dedo nos móveis, ele sai preto. Imaginem, então, como ficam as janelas, fechadas durante a maior parte do dia justamente para bloquear a entrada da sujeira, que nelas se deposita simbioticamente. A cada duas semanas preciso remover todas os vidros das esquadrias para que sejam devidamente higienizadas e a gente possa voltar a ver o que acontece no mundo lá fora. E É UM INFEEEEEEEEEERNO, porque as porcarias das lâminas até que saem com certa facilidade, mas na hora de botar de volta, não sei, parece que elas crescem, engordam, ou simplesmente teimam de não querer voltar das férias e resolvem NÃO ENTRAR NUNCA MAAAAAAAAAAAAIS, ESSAS BOOOOOSTASSSSS! Como se não bastasse a dor nas costas pelo peso e o medo de derrubar tudo nos carros da garagem ou, pior, nas pessoas passando lá embaixo, ainda tenho que administrar o estresse de não conseguir meter os vidros nos seus respectivos lugares.
Agora tô aqui suado feito dançarino de lambada, exausto, com uma janela meio encaixada e emperrada, não sai do canto de jeito nenhum. E o pior: metade aberta, para deixar a poluição toda entrar. AAAAAARGH!